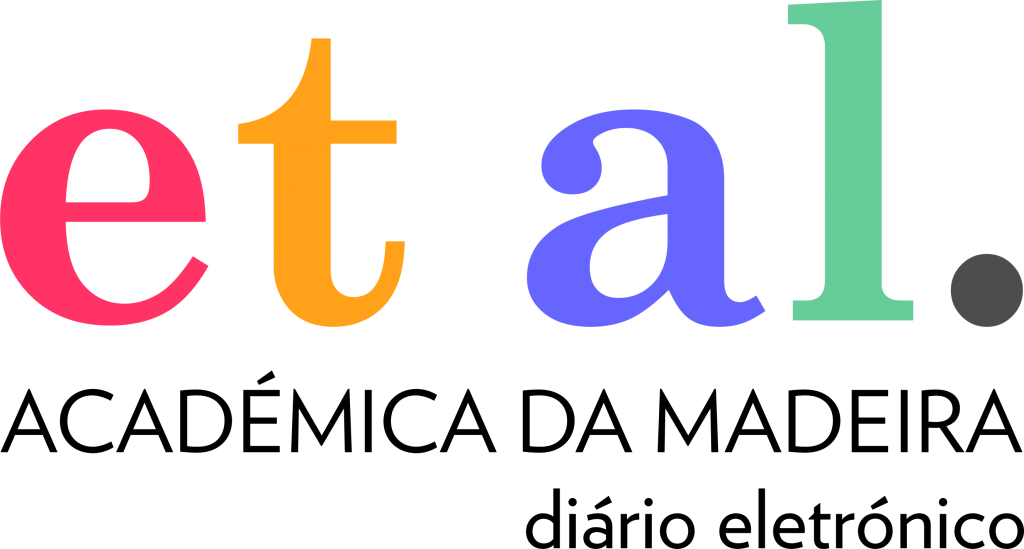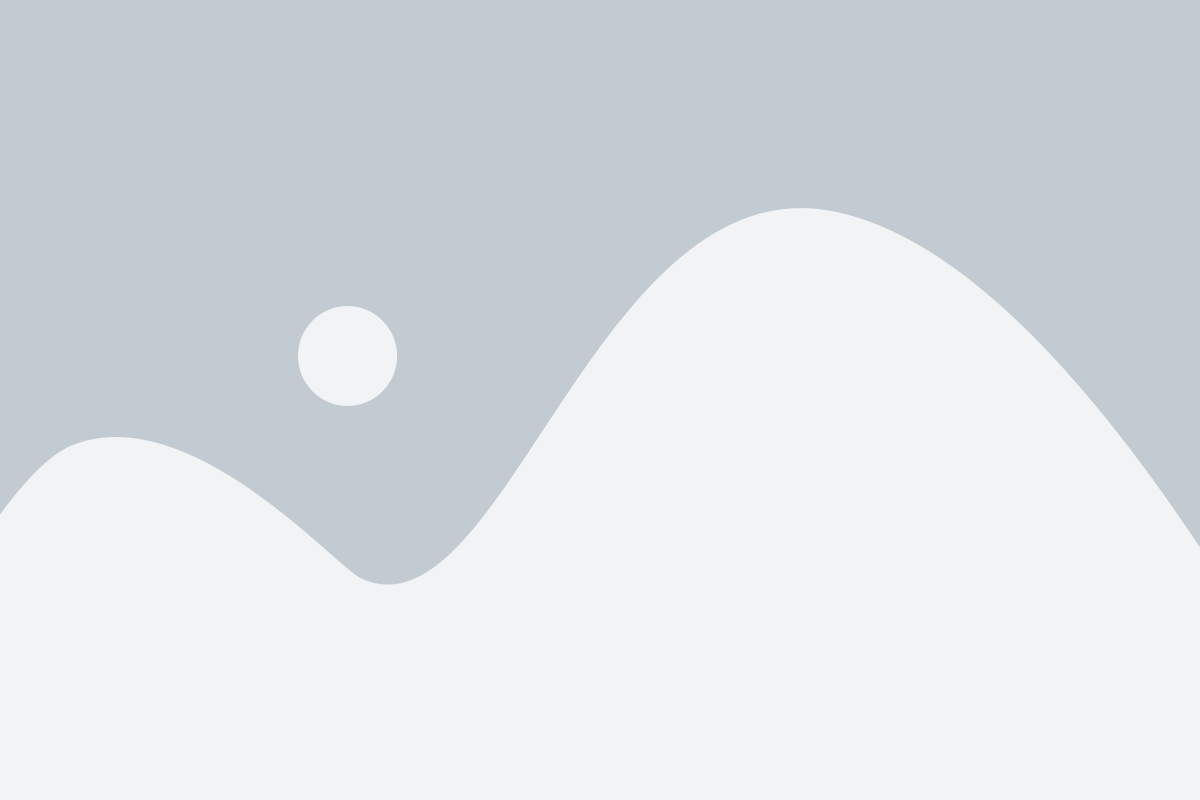Rodrigo Costa é um jovem artista plástico português, curador e produtor cultural, atualmente residente na Madeira. Em julho de 2020, concluiu, na Coventry University (Reino Unido), o curso de Belas-Artes. Desde o regresso à Madeira, a sua atividade passou pela gestão e curadoria da galeria de arte juvenil “anona” e pelo projeto de solidariedade “recreios de cri(ação)’ // ‘play(ing) grounds”.
Em 2023, na Feira do Livro do Funchal, criou a instalação “Os bons, os maus e os obviamente loucos”, cujas cujas peças foram recentemente cedidas, para exposição, a ala pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O trabalho apresenta um conjunto de personagens que combinam elementos de vários contos e fábulas infantis, com o objetivo de explorar a questão moral, central nessas narrativas: o que significa ser “bom” e o que significa ser “mau”?.
Após o curso na Escola Secundária Francisco Franco, segue-se uma experiência académica e profissional no Reino Unido. Como foram esses desafios?
Sair da nossa zona de conforto é sempre desafiante, mas extremamente necessário. Aos 18 anos, sozinho, para além de começar uma nova etapa a nível académico (e mais tarde profissional), enfrentei também – ainda que com imensa felicidade e sentido de missão – o facto de ter de sair da ilha, do contexto que conhecia, abandonar os meus costumes e língua-mãe, porque tinha em mim uma certeza absoluta de que “lá fora” me esperava algo maior. Adaptar-me a uma nova cultura, completamente diferente da portuguesa, mais fria e distante, mais focada no trabalho e bastante longe da típica “pausa para o café” lusitana, foi algo complexo, mas que – caindo num autêntico cliché – me ajudou genuinamente a abrir horizontes e a pensar de maneira diferente sobre vários assuntos. Foi um verdadeiro despertar para a quantidade de informação e perspetivas diversas que existem fora da realidade do “ilhéu”; foi uma possibilidade de interação não apenas com a cultura britânica, mas com tantas outras que encontrei pelo caminho.
Em segundo lugar, entre muitas outras questões que considerei desafiantes, escolho destacar aqui a complexidade de alinhar-me com um sistema de ensino muito diferente daquele a que estava habituado. Moldar-me a um ensino dito académico que é focado em resultados físicos, em pesquisa individual, com poucas aulas e palestras – um método ‘DIY’, que obriga, desde cedo, ao desenvolvimento de uma prática artística praticamente sozinho –, foi no mínimo estranho. Vindo do sistema de aprendizagem e ensino português, focado em notas, médias, metas, teoria e quase nada de prática, não foi fácil perceber e interagir com esta nova realidade. No entanto, foi este mesmo tipo de educação que me permitiu ser exatamente o que sou hoje. Sinto genuinamente que, mais e menos indiretamente, me foram dadas ferramentas para “fazer por mim”, pensar por mim, num mundo muitas vezes egoísta e competitivo, em que há muito poucos a chegar-se à frente para ajudar quem está a começar. Não descarto, contudo, o quão necessário foi (e ainda é) a disciplina portuguesa, para que não me perdesse no meio de tanta liberdade. Cada vez mais percebo e respeito o impacto que ambas estas realidades tiveram na pessoa que sou tanto a nível profissional quanto pessoal. Aliás, acredito veemente que o tipo de ensino ideal seria uma fusão destas duas realidades.
Como comparas a vida artística na Madeira e a que viveste, durante o curso, no Reino Unido?
Regressei à Madeira, como tantos outros, por causa da pandemia. Foi inesperado e definitivamente não estava nos meus planos. Quando cá cheguei, infelizmente, deparei-me com o mesmo cenário cultural que tinha abandonado: uma cultura virada apenas para o turismo, retirada sobretudo da experiência de ser “ilhéu”, em que a arte verdadeiramente contemporânea não tinha forma ou espaço de exposição e em que se mantinha uma elite cristalizada, onde qualquer “artista emergente” tinha dificuldade de entrar. No Reino Unido, obviamente, existe uma cultura muito mais abrangente e preocupada com diversos temas e pessoas; uma oferta – com pontos positivos e negativos, claro – quase infindável de coisas para ver e fazer, sobretudo dentro das artes visuais e plásticas (para além das normais exposições, falo de residências artísticas, festivais, cursos, palestras, atividades e mostras interativas, etc.).
Atualmente, enquanto trabalhador da cultura na ilha, percebo muitos dos entraves que fazem com que a Madeira esteja tão atrasada a nível da cultura contemporânea, sendo um dos maiores e mais complexos a permanência das mesmas pessoas, nos mesmos lugares de decisão por períodos de tempo muito prolongados. A rotatividade de posições e empregos que é executada e incentivada no Reino Unido, permite que mais visões sejam postas em destaque, que novos programas e ideias sejam explorados e divulgados. Existem simultaneamente mais entidades e investimentos independentes das instituições camarárias e governamentais, o que fornece ao público uma oferta mais extensa e completa de ideais, crenças e experiências. Igualmente importante é a educação cultural, que se guia por outras linhas mais inclusivas e incentivadoras da participação ativa desde cedo (algo que começa finalmente a ser trabalhado na ilha).
A nível de oportunidades para artistas emergentes, notei também uma enorme diferença entre estas duas realidades. Na totalidade dos meus 18 anos na Madeira e aquando do meu regresso, existia muito pouco apoio aos e interesse nos artistas mais jovens. Nenhuma instituição cultural estava particularmente empenhada em valorizar e dar lugar a novas ideias e visões, que podem até cometer erros, mas que sem um espaço de exploração nunca poderão prosperar. Felizmente, e graças também ao impacto positivo da galeria anona, atualmente é possível assistir a uma mudança nesta narrativa, mesmo que ainda haja muito trabalho pela frente. Enquanto diretor artístico e gestor desta galeria, enquanto alguém que experiencia em primeira e segunda mão a dificuldade de afirmação de um jovem artista na ilha, admito que não será fácil reverter esta narrativa e “resgatar” jovens que efetivamente já desistiram da possibilidade de regressar. É um esforço ingrato, mas que absolutamente tem de ser feito, para que se renove a energia no panorama cultural regional.
A instalação “os bons, os maus e os obviamente loucos” foi um dos destaques do cenário artístico da Feira do Livro do Funchal deste ano e a projeção das peças continua com a presença na ala pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. É um trabalho que foge a um arquétipo regular do mercado infantil, mas que vários artistas têm galgado. É, também, um trabalho para todas as idades? Como tem sido essa interação com os mais jovens?
“Os bons, os maus e os obviamente loucos” é, arrisco-me a dizer, o trabalho que melhor representa, até hoje, a minha prática artística que se resume essencialmente em diversas tentativas de incentivar um “regresso informado” à infância, recorrendo não só a referências mais e menos associadas a essa fase, mas também a uma característica que nos é intrínseca e que acabamos por perder em “adulto”: o ato de brincar. Portanto, este é sim um trabalho para todas as idades que tenta provocar a “criança interior” de quem interagir com as peças e que promove simultaneamente (ainda que absolutamente acidentalmente) a aproximação das crianças à Arte e ao objeto artístico.
Obviamente, toda a peça foi e continuará a ser muito mais atrativa para os mais jovens, que ainda estão a descobrir os “limites” da Arte – em que é que se pode ou não tocar, como nos devemos comportar com certos tipos de peças, etc.. Os públicos mais novos, sem dúvida, acabam por criar mais e melhores ligações com a instalação, respondendo perfeitamente ao seu objetivo principal que é a livre interação e criação de novas narrativas.
Enquanto as peças estiveram presentes na Feira do Livro, foi extraordinário poder observar em primeira mão estes diálogos das crianças, primeiro a medo e depois com mais confiança. Simultaneamente, no entanto, constatei também o desconforto dos “mais crescidos” que observavam, controlavam e, às vezes, até repreendiam estas utilizações. Infelizmente, fomos formatados para isso, para deixar o objeto artístico sossegado, para termos um papel meramente passivo no que toca à Arte no geral (mesmo quando somos informados do contrário). Neste sentido, diria que o meu maior interesse nesta instalação foi mesmo este de perceber como poderá ser possível provocar o espectador mais adulto e maduro a mover as peças, a quebrar os protocolos pré-concebidos e ultrapassar o medo do “alarme do museu”, para responder a uma necessidade básica há muito esquecida – brincar. Mais uma vez, menciono aqui a educação cultural que desempenha um grande papel na definição da relação público-arte e que deve ser abordada desde cedo.
No verão de 2022, fizeste “O que aconteceu a cenoura?”, no Teatro Municipal Baltazar Dias. É um dos teus vários trabalhos em que o artista integra a obra, como “senses”, em 2019, durante o teu curso. Como vives esses momentos de imersão na tua obra?
Antes de qualquer coisa, considero que sou um artista de performance. Durante muitos anos tive aulas de teatro, fiz parte de imensos espetáculos enquanto ator amador e escrevi inclusive, com duas outras pessoas, dois textos dramáticos que foram levados a cena em diversos palcos regionais. Foi definitivamente nesta realidade que começou o meu interesse nesta situação de “vestir” e “despir” personagens, objetos, conceitos, algo que já tinha esquecido há muito e que reencontrei no fim do primeiro ano de universidade. “O que aconteceu à cenoura?” permitiu-me, pela primeira vez depois de regressar à Madeira, finalmente mostrar o que faço, exatamente como faço.
Dito isto, estes momentos de imersão são fulcrais para mim enquanto artista, mas também enquanto pessoa. São pequenas oportunidades em que consigo mesmo parar, aproveitar e divertir-me genuinamente com o que faço. Só assim posso continuar a “apregoar” que o público faça o mesmo quando se depara com as minhas instalações e performances. A maioria dos “fatos” que construo e posteriormente uso têm todos em comum a eliminação de alguns sentidos (sobretudo visão, audição e toque), o que de certa forma ajuda a transportar-me para um mundo mais imaginário e livre, onde sou capaz de visualizar a minha criação de forma mais clara – como se move, como soa, o que faz. Sem querer parecer demasiadamente esotérico – mas já o sendo acidentalmente –, estes são pequenos momentos em que saio do meu corpo e embarco noutra realidade, onde são eliminados os problemas e a correria do dia-a-dia.
Haverá, certamente, muitos planos para o futuro. O que podes revelar ou quais são as tuas ambições?
Neste momento, para além de estar a gerir a galeria anona até dezembro deste ano, sou responsável, enquanto curador e diretor artístico também, pela segunda edição do projeto FRESH CONTEMPS – Artes Visuais, em parceria com a Secretaria Regional de Turismo e Cultura e a Direção Regional da Cultura, que se inicia no dia 1 de agosto. Nesta vertente de produtor, tenho ainda mais alguns desafios atualmente em mãos, mas que não posso revelar para já…
Enquanto artista visual, começo uma residência artística no Estúdio de Criação Artística, apoiada pela Câmara Municipal do Funchal, no dia 2 de agosto, que integra um projeto pessoal maior – “Quem tem medo do Lobo Mau?” –, iniciado em julho e que possivelmente culminará numa exposição a solo, a minha primeira na Madeira.
A nível de ambições, sinto que só tenho mesmo uma: poder viver e “pagar contas” apenas através da produção de arte, de ser artista visual a tempo inteiro, sem produções, curadorias e trabalhos extra. O resto – o pagamento justo e mais oportunidades para artistas, sobretudo os emergentes; mais partilha entre gerações de profissionais; uma cultura regional mais abrangente; a dissolução das “elites culturais”; uma educação cultural mais forte e inclusiva; mais riscos; mais erros – são crenças e necessidades básicas, ideias que gosto de acreditar que a ilha conseguirá eventualmente, pouco a pouco, por em prática para que o panorama cultural se regenere.
Entrevista conduzida por Luís Eduardo Nicolau
ET AL.
Em julho de 2023.
Com fotografia cedida por Rodrigo Costa.