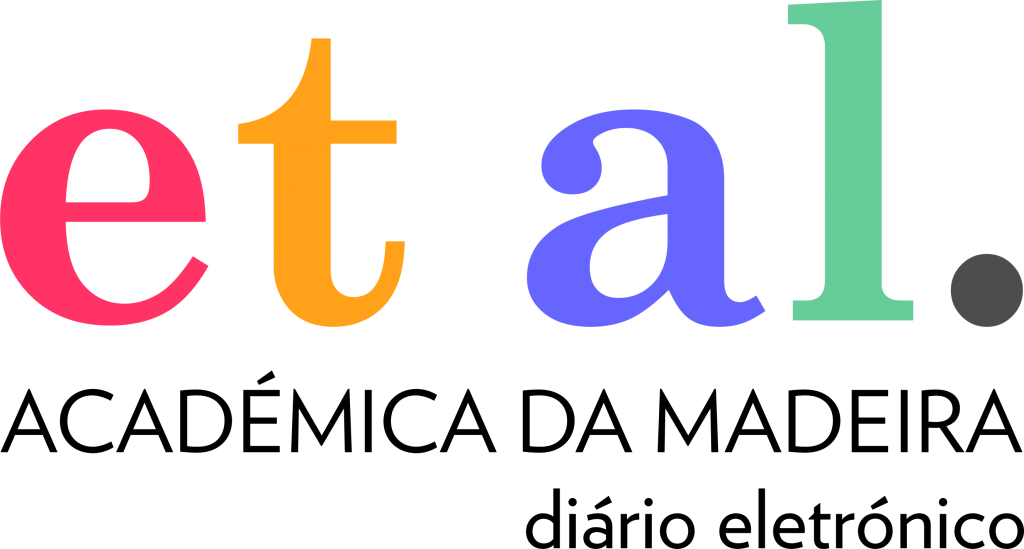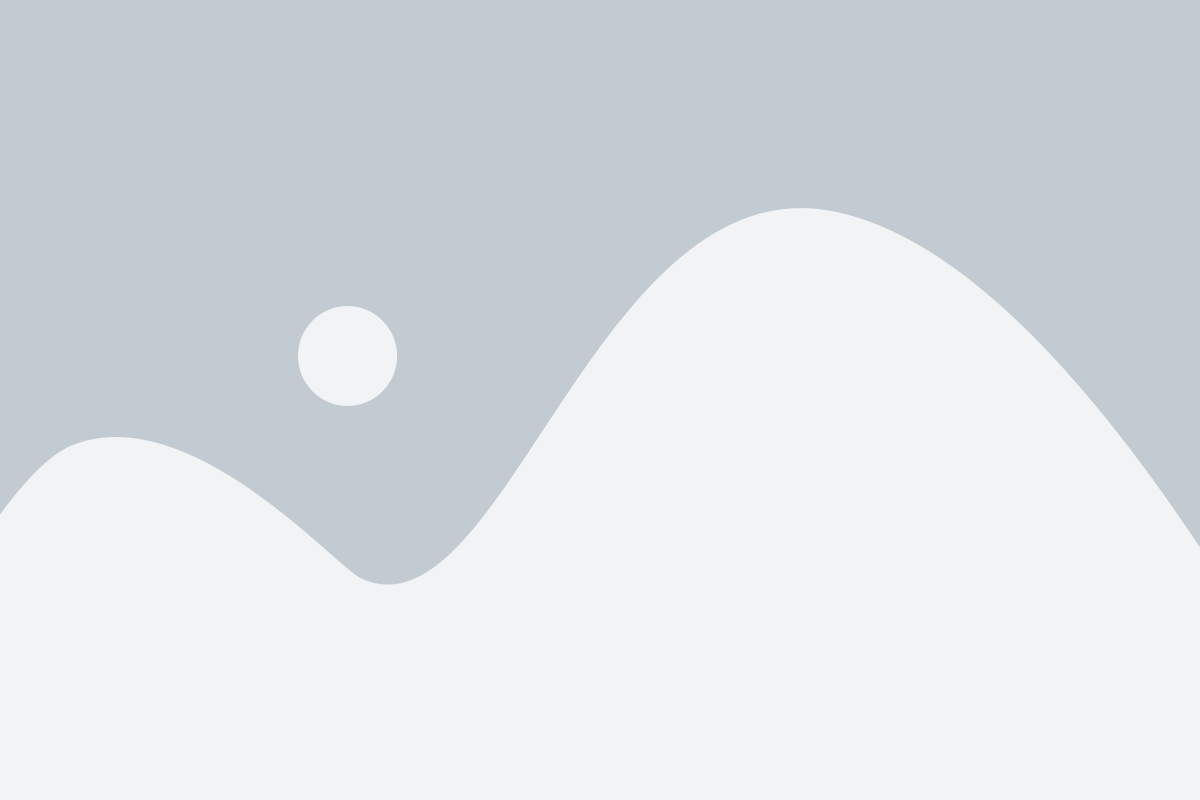A ET AL. entrevistou a autora Irene Lucília Andrade sobre a nova edição da sua obra A PENTEADA E O FIM DO CAMINHO, que será lançada na Feira do Livro do Funchal. Foi uma oportunidade para dar a conhecer um pouco da autora, apesar de os seus elementos biográficos serem já sobejamente conhecidos: é sempre referida a sua formação artística, o seu tirocínio como professora, a sua obra poética e narrativa, a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, recebida em 2016, também a Medalha de Mérito da Câmara Municipal do Funchal, por ocasião do dia da cidade, a 21 de agosto de 2021.
A segunda parte da entrevista é publicada aqui.
Gostaria que falasse um pouco sobre as pessoas. Esta sua obra tem um marcado diálogo epistolográfico. Quem são os seus interlocutores?
O primeiro interlocutor, e o essencial, é a minha avó materna, Eulália Beatriz, que viveu no sítio da Penteada; avó que eu realmente não conheci, mas que era sempre evocada por todos. O livro é todo dedicado a ela, mas também dialoga com outras pessoas. Todo o livro acaba por ser um diálogo, uma narrativa dirigida sempre a alguém, algumas pessoas vivas ainda na época em que eu o escrevi, mas também dirigida a descendentes dessas pessoas. Algumas ainda são vivas.
Fale-nos um pouco destes lugares da sua infância e da sua toponímia. A IA e a UMa estão situadas num local muito próximo que é percorrido pela sua narrativa.
É verdade! [risos] Passa-se tudo ali próximo. A Universidade e o complexo do Tecnopolo foram construídos não propriamente no terreno onde eu vivia, mas era muito próximo. Aqueles terrenos eram de colonia, as casas e os quintais eram dos colonos, mas a terra era do latifundiário. A minha casa, a casa onde eu nasci, ainda existe, logo acima da Universidade, mais ou menos por baixo da via rápida, está perdida lá entre as fazendas. Eu ainda a vejo, quando vou até à Universidade e estaciono o carro naquele estacionamento junto à ribeira.
O Caminho da Penteada ainda permanece o mesmo, há coisas que vão resistindo. A estrada alargou-se um pouco, mas não muito, o desenho da estrada permanece o mesmo e ainda há casas do meu tempo no início da ladeira, nós chamávamos a ladeira, aquela rampa que vai do fim do Caminho até aos Álamos, junto à ponte da Água de Mel, sobre o ribeiro da Água de Mel que passa ali, junto ao mercado da Penteada. A minha casa tinha entrada pela estrada, mas ficava próxima da ribeira.
Tal como o Caminho, a ribeira é sempre uma presença no seu livro…
A ribeira era muito importante para nós, para a nossa infância. Toda a gente, no inverno ou quando chovia muito, toda a gente se punha à espreita de quando é que a ribeira vinha, porque ela vinha com um estrondo enorme, desde Santo António, a correr por ali abaixo. Era engraçado, e as pessoas, as crianças, corriam ao fundo das fazendas para ver a ribeira passar. Era uma atração, para crianças e adultos, era um divertimento. A minha antiguidade [risos], a minha antiguidade dá para recordar estas coisas interessantes que já não existem, que estão no fundo da história e que me dão um prazer enorme.
Com que tipo de sentimentos convive toda esta rememoração, todo este resgate da memória, como caracterizado por uma investigadora que estudou a sua obra?
Existe alguma melancolia, sim, certas vezes, mas tristeza não, alguma saudade, mas tristeza não, de maneira nenhuma, pelo contrário, dá-me um grande prazer recordar, porque era uma época feliz, era uma época boa, aqui nem chegavam as notícias da guerra. Eu nasci praticamente no ano em que se iniciou a Segunda Grande Guerra. Nós vivemos aqui o tempo da última grande guerra quase sem nos apercebermos. Evidentemente, havia notícia, havia jornais, mas a maior parte das pessoas nem se apercebia do que se estava a viver em tempo de guerra, embora houvesse alguma dificuldade, havia os racionamentos. As pessoas eram modestas, de raiz, eram pessoas que viviam do seu trabalho, do dia a dia, resignavam-se a estas faltas e geriam a vida da melhor maneira, e, de resto, eram pessoas felizes. Éramos pessoas felizes.
Por fim, e aproveitando a sua experiência com as crianças, nas escolas e não só, o que gostaria de dizer aos jovens, mais crescidos ou menos crescidos, estudantes da UMa ou não, madeirenses e porto-santenses, que nasceram nesta contemporaneidade de rápidas transformações e, talvez, de pouca memória.
Olhe, eu gostaria de dizer uma coisa que eu não tive no meu tempo, que é procurar conhecer a história da nossa ilha, eu não tive essa oportunidade no meu tempo. No nosso tempo, nós estudávamos por livros que vinham do continente e poucos sabíamos da nossa terra. Sempre houve investigadores e historiadores que se dedicavam à história da Madeira, mas isso não fazia parte dos programas escolares. Depois, estava ainda eu no ativo, começou a haver este interesse pelos temas locais e regionais no currículo, que prescrevia esta integração. Mas eu penso que isto continua ainda muito por fazer, é apresentado como uma extensão do programa e ainda não faz parte integrante, penso eu, que já estou um pouco afastada.
O que eu gostaria de dizer aos jovens é que procurem conhecer a sua terra, as pessoas que nela viveram e vivem, a evolução que a terra sofreu, que sejam críticos em relação a esta mesma evolução, que procurem informar-se, ler, ler, ler, isso é uma coisa que falta às pessoas, desenvolver o interesse pela observação crítica do que vai acontecendo. Era isso que eu realmente recomendava aos nossos jovens e alunos.
A primeira parte da entrevista pode ser consultada aqui.
Entrevista conduzida por Timóteo Ferreira.
ET AL.
Com fotografia de Pedro Pessoa.